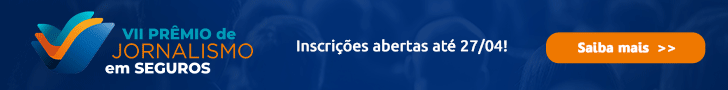A história desta semana é novamente uma colaboração de Milton Saldanha ([email protected]), que edita o jornal mensal Dance, dedicado à dança de salão, e mantém um blog de crônicas sobre assuntos variados. Certa vez, no Diário… 1969. O Diário do Grande ABC mal tinha deixado de ser o semanário News Selller. Ainda estampava na capa, ao lado do logo, esse nome, em letras reduzidas. A extensão do título, com aquilo que parecia um adjetivo, no meio, nos espantava. Por que não apenas Diário do ABC? A resposta soubemos logo: ele não se limitava às três cidades que levam os nomes dos santos André, Bernardo e Caetano. Abrangia também Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, totalizando 7 municípios. Rubem Mauro Machado, meu irmão, foi contratado por Fausto Polesi, no Diário, como ?secretário de redação?. Não se falava ainda ?editor-chefe?. Consultou sobre minha contratação para uma função que lá ainda não existia: copydesk. Não houve objeções, eu poderia ir. Nos cinco meses anteriores tinha sobrevivido como correspondente comercial no escritório paulista de uma empresa do Rio. Emprego achado em classificados de jornal. Odiava aquele trabalho, e se não tivesse estômago para abastecer teria largado na primeira semana, ou menos. Então, o chamado para o Diário foi como um convite para trocar o inferno pelo céu. A redação era numa casinha de esquina, onde hoje existe um edifício. Não havia o atual prédio, só as oficinas, num barracão no fundo do terreno, que abrigava também balcão de anúncios, salas dos demais diretores e administração. Estrategicamente, já haviam deixado espaço para a futura sede. Na casinha, Polesi tinha sua sala exclusiva. Sem secretária. Só Edson Dotto, diretor-presidente, tinha secretária. De vez em quando, aos sábados, Fausto aparecia lá em roupa esporte, com seus dois moleques pela mão, para saber se estava tudo bem. Os moleques eram Alexandre e Cassiano. Em outra sala, pequena, com as mesas encostadas, ficávamos Rubem, Lázaro Campos, que dobrava nas funções de chefe de Reportagem e diagramador, Eduardo Camargo, que fazia sozinho a página de Política, e eu. Na sala maior ficavam os repórteres: Cássio Loredano, Dirceu Pio, Hildebrando Pafundi, José Augusto, Ana e mais uma ou duas moças, cujos nomes, desculpem, não recordo. Também o Hermano Pini Filho, que só chegava no final da tarde, tinha emprego na Pan, dos chocolates. Assinava o Primeiro Plano como Júlio Pinheiro, e se reportava diretamente ao Fausto. Escrevia também editoriais, sempre fumando seu cachimbo. Maravilhoso companheiro. Alguns meses depois entraram Paulo Andreoli, para Geral; Renato Campos, para Polícia; e o primeiro colunista social, Serafim Vicente. Numa salinha mais ao fundo ficavam Salvador e Romão, do esporte, ao lado do Seu Abílio, encarregado do arquivo, do livro de ponto, e de encher o saco dos dois boys, pois fora informalmente nomeado como ?chefe? dos moleques. Seu Abílio passava boa parte do dia caminhando com o livro de ponto, de mesa em mesa, cobrando as assinaturas. O cara tava mergulhado no texto, concentrado, e lá vinha seu Abílio… Isso municiava o arsenal de piadas da redação. A gente achava o velho um tremendo chato, sem perceber que ele era o único organizado ali naquela zona e nos fazia inestimável favor, garantindo a documentação das nossas longas jornadas. Seu passado era famoso, interrompeu o curso de Medicina no meio, por falta de recursos, exerceu a profissão ilegalmente, foi descoberto e cassado, ou preso, não sei direito. Quando alguém ficava doente consultava com ele. Sempre dava bom resultado. A benção, seu Abílio! Na Fotografia, com laboratório também na casinha, trabalhavam Pedro Martinelli, o famoso Pedrão, usando máquina própria semiprofissional, e Mário Otsubo. No laboratório, Roberto, que sonhava em virar repórter-fotográfico. Salvo algum esquecimento, involuntário, me perdoem, isso era tudo na redação. E só com isso a gente tirava um jornal diário, de 3a a domingo, que logo passou a ter dois cadernos, sendo gordinho nas 5as e gordão aos domingos, para nosso orgulho. O único carro da redação era uma malhada Rural Willys, nas mãos do motorista Pelé. Ele juntava os repórteres e ia largando nos seus locais de cobertura, um aqui, outro ali. Na volta, geralmente, cada um se virava. Vinha à pé ou de ônibus. Pagando do próprio bolso, sequer havia uma caixinha de despesas. Táxis, nem pensar. Quem tinha sorte, telefonava e Pelé ia buscar. Como não havia telex, nem teletipos, Pelé fazia todos os dias duas viagens até a Agência Estado, na Major Quedinho, Centro paulistano, e voltava com vários rolos de cópia carbono dos telegramas das agências. A gente ia selecionando aquelas tripas, cortando com régua, e ?copidescava? ali mesmo, com a caneta. Nossas mãos ficavam pretas do carbono. Não raro, um de nós esbravejava todos os palavrões do mundo quando não encontrava naquelas maçarocas alguma importante notícia do dia, se bobear a própria manchete já prevista do jornal, ou de uma página. Era um horror. Lá pelas 9 da noite Pelé fazia outra viagem para trazer mais telegramas. Quanta insensatez e inexperiência, gente. Já havia o telex, a sucursal do Estadão tinha, era um caminhão barulhento, mas tinha. Bastava pedir na Embratel, ligar numa linha telefônica, e pagar o aluguel. Sairia muito mais barato do que a gasolina mensal da Rural, fora o estresse a que nos submetia. Por exemplo, em dia de chuva. Sempre havia enchente na divisa de São Caetano com São Paulo. A Rural tinha que ir e voltar pela Via Anchieta, dando enorme volta. Lembrem-se de que não havia a rua Catequese com o traçado de hoje, nem aquelas avenidas expressas. Chegar lá era percorrer um labirinto de ruas. E a gente na redação, parado, xingando, esperando uma notícia que, de repente, poderia nem chegar. Era duro. A oficina também arcava com a burrice, pois dependia da redação para encerrar seu trabalho. Pedro Martinelli, sempre com mala de fotografia pendurada no ombro, era também motorista, quando Pelé faltava. Bom ouvido também valia. Soava alguma sirene, se mais forte indicando ser dos bombeiros, e Lázaro berrava o nome do repórter mais próximo, mais Pelé e Pedrão, e todos saiam em desabalada carreira, como se dizia na antiga linguagem de clichê, seguindo a viatura pelas ruas, furando semáforos, tudo pela notícia. Manter um plantonista no QG dos bombeiros? Impossível, seria um luxo, todos faziam falta na redação. Fazer um acordo de informação com o comando? Imagine, éramos todos focas, ou quase focas. Cada nome aqui lembrado renderia um longo capítulo de episódios, a maioria divertidos. Nenhum de nós escaparia, a começar por este escriba. Em rodas de bar é gostoso lembrar, como aquele dia em que o Pio fez uma matéria de pau num charlatão curandeiro. O cara era um guarda-roupa. Ficou esperando Pio ao lado do portão da casinha. E a gente lá dentro, morrendo de medo, em vez de chamar logo a polícia. Quando Pio chegou só achou uma saída: tentar convencer o sujeito que a matéria só tinha elogios. É mole? O personagem, ignorante, ficou confuso. Não sabia se acreditava. Por via das dúvidas, deu um abraço de urso no Pio, girou com ele no ar e devolveu ao solo. Retirou-se não sem antes prometer um ?trabalho? para ele broxar. Nessas alturas era até uma boa barganha. Depois disso Pio teve quatro belos filhos, prova de que o cara era mesmo charlatão. Quando chegou no jornal a primeira câmera Nikon, Pedro Martinelli aposentou sua maquininha e parecia uma criança com um brinquedo ansiosamente sonhado. Ficou enlouquecido, só falava sobre a máquina. Iniciando, já mostrava tremendo talento. Mas ninguém imaginaria que ainda seria um dos melhores fotógrafos do Brasil. E quando venderam a velha Rural e chegaram alguns Fuscas brancos, com enormes letreiros do jornal e da rádio, agora sim havia carros para trabalhar, fim do sufoco, sentimos pela primeira vez que o nosso Diário começava a virar um jornal de verdade. Naquele período, enquanto a vida nacional estava tumultuada, com sequestros e assaltos de guerrilheiros urbanos, noticiamos com grande impacto o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Não havia censura no Diário, ao contrário dos grandes jornais da Capital. Então a gente aproveitava algumas brechas e denunciava, por exemplo, a tortura… no Uruguai, onde também havia ditadura militar. Como quem diz, se lá tem, aqui… Foi o ano também em que o homem pisou na lua. Do boom da indústria automobilística. Do início da tevê em cores, inaugurada pela Globo com a transmissão da Festa da Uva, em Caxias (RS). Transamazônica, ponte Rio-Niterói, Angra. O Diário começava a crescer e comprou a antiga rádio Independência AM, de São Bernardo, que passou a ter o nome de Rádio Diário do Grande ABC. Aí resolveram que a rádio seria forte no jornalismo, tentando copiar a Jovem Pan. Era um fiasco. Por qualquer bobagem entrava uma escandalosa ?Edição Extraordinária?. E qualquer dos nossos repórteres entrava no ar, da redação, sem ter tido qualquer treino anterior como repórter de rádio, sem colocação de voz, nada. Os boletins ficavam medonhos. Até Edson Dotto gostou de brincar de repórter e entrava com boletins, lendo ou improvisando mal, com voz inadequada. Custou um tempo até colocarem realmente profissionais de rádio. Aquela fase foi também a da Escolinha, como diz até hoje o Renato Campos, uma das testemunhas disso. Os textos pecavam por erros técnicos básicos, alguns até primários. Rubem e eu, até ali os menos inexperientes, passamos a fazer um trabalho de crítica de texto, repórter por repórter, texto por texto, das notinhas mais simples às grandes reportagens. O pessoal evoluiu rapidamente, em bloco, e isso foi uma grande realização e alegria para nós. Num dia de verão, muito quente, inventamos uma matéria no Guarujá. Pretexto para ir à praia. Já estava combinado e todo mundo levou calção para o jornal. Lotamos a coitada da Rural e descemos a serra, pela manhã cedo, para voltar lá pelas duas da tarde. Pedrão fez algumas fotos de supostas gostosas, para justificar o ?trabalho?. Curtimos a praia, bebemos cerveja, foi superdivertido, por estarmos em turma e pelo sabor da traquinagem com o carro e a gasolina do jornal. Na volta alguém cascateou um texto sobre o dia de forte calor e outras bobagens. O Fausto chegou e ficou olhando desconfiado nossas caras de safados, com os cabelos desalinhados e ainda úmidos, gente lavando os pés na torneira do jardim. Todo mundo entregando. Mas deixou barato, não falou nada. Era tudo uma lua de mel? Claro que não, somos de carne e osso, com virtudes e defeitos, rejeições e preferências afetivas. Mas uma coisa posso garantir: em nenhum outro momento de toda a minha carreira desfrutei de um ambiente tão gostoso na redação. Para encerrar, vou relembrar algo inesquecível. Foi nossa edição extra especial de cobertura do final da Copa do Mundo de 1970, no México. Foi a primeira vez em que a tevê transmitiu a Copa ao vivo. A transmissão por satélite era uma novidade. O Brasil, como todo mundo sabe, tinha um time invencível e era franco favorito. Resolvemos soltar a edição extra. A ideia era lançar o jornal pronto, nas mãos de um batalhão de jornaleiros, meia hora após o fim do jogo, no máximo. Os moleques, mais de cem, iriam com os jornais nos braços para os burburinhos dos festejos nas ruas. Durante a semana inteira fizemos o jornal, com matérias retrospectivas etc.. Na capa pré-montamos um jogador erguendo a taça. Detalhe: usava mangas compridas, era o que a gente tinha em arquivo, eles jogaram com mangas curtas. Dane-se, decidimos, e fizemos a montagem com outro rosto. O que hoje, com Photoshop, seria bico, naquele tempo foi uma verdadeira engenharia, obra de artesãos. E montamos até o texto da matéria de capa, que já tinha manchete pronta, com buracos para detalhes do jogo, resultados etc.. Ou seja, em menos de dez minutos a gente finalizaria tudo, baixaria para a oficina, que já tinha o jornal todo pronto, faltando só a capa, e… Seria um sucesso! Ah, e teríamos fotos do jogo, dos gols, em primeira mão. Pedrão colocou um tripé na frente da tevê e fez as fotos dali mesmo. Reveladas e ampliadas, pareciam radiofotos, muito usadas na época. Quebravam o galho perfeitamente. Durante a semana ele havia feito testes, avaliando os resultados, estudando o melhor ajuste da máquina, tudo. A redação toda em volta, torcendo, gritando, e o Pedrão ali, clicando e também torcendo. Quando o jogo acabou, o batalhão de jornaleiros estava na porta da oficina, aguardando. Mal o juiz apitou e mergulhamos nas velhas Olivetti, teclando com fúria. Todo mundo correndo, parecia fechamento de jornal em tevê. Até o boy estava instruído a seguir correndo para a oficina, no sentido literal, com a lauda do texto. Alguém imagina o que aconteceu? Pois é, a luz apagou geral no bairro. Ficamos sem energia. Desesperados, e sem energia para mover as possantes linotipos, o chumbão, como eram chamadas. Todo aquele esforço de uma semana, toda aquela correria, tremendo esquema de mobilizar jornaleiros numa época em que isso não existia mais, as vendas eram em bancas, muita adrenalina para… Sermos derrotados por um pedaço de fio. A luz demorou quase uma hora para voltar. E ainda faltava rodar a capa. Não adiantou ligar desesperadamente para a Cia. de Força. O jornal foi para as ruas, mas sem o impacto dos primeiros minutos, para surpreender o povo, como tínhamos planejado nos mínimos detalhes. Creio que nunca, na história do Diário, tenha acontecido algo tão frustrante. O Diário não merecia, muito menos nós, tão focas, e tão sonhadores.
7.4
C
Nova Iorque
sexta-feira, abril 19, 2024