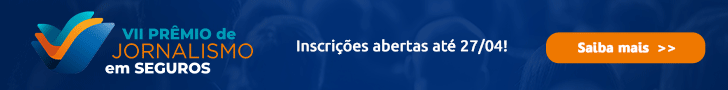Reproduzimos esta semana, com a aprovação do autor, artigo que Roberto Muggiati publicou na edição de 15/3 da Gazeta do Povo, de Curitiba, no qual rememora os tempos heroicos em que atuou no jornal e faz um balanço do que mudou na profissão ? para melhor e para pior. Nascido na capital paranaense e jornalista desde 1954, Roberto trabalhou também, entre outros, na BBC em Londres, nos anos 1960, Manchete, Fatos&Fotos e Veja. Publicou diversos livros, entre eles Mao e a China, Rock: o grito e o mito, A contorcionista mongol, Improvisando soluções e A selva do amor. Crítico musical, assina uma coluna sobre jazz no Estadão. Ocupa a cadeira 33 da Academia Paranaense de Letras. Saxofonista bissexto, diz ter aprendido com o jazz ?que não existe beleza maior do que o som da surpresa e que a vida não passa de um grande improviso?. Tudo começou na Gazeta há 58 anos Na noite de 15 de março de 1954, uma segunda-feira, subi as escadas do casarão da Praça Carlos Gomes para meu primeiro dia de trabalho na Gazeta do Povo. Não tinha, como o imperador Júlio César, um vidente a me alertar ?Cuidado com os idos de março!? Só depois vim a saber que ?os idos de março? eram precisamente o dia 15. César não deu ouvidos ao adivinho e morreu apunhalado naquele dia exato, em 44 a.C. ? 1.998 anos antes de eu atravessar o umbral daquele sobrado que me abriria as portas da profissão e da vida. Não sofreria punhaladas fatais, como as de César: mais sutis e traiçoeiras, elas exerceriam um efeito moral e emocional que, absorvido ao longo destes 58 anos, me ensinou a conviver melhor com a besta humana. Toda manhã, como o leite e o pão, nosso jornal era entregue nas casas dos cidadãos e nas bancas. Em termos de tecnologia, estávamos mais próximos da prensa de Gutemberg, de 500 anos antes, do que da mídia globalizada de McLuhan, apenas dez anos à nossa frente. Ainda não tínhamos teletipo e as notícias caíam literalmente do céu: um velho senhor entalado num cubículo, a cabeça curvada por enormes fones de ouvido, recebia os últimos despachos em código Morse e os decodificava, teclando numa velha Remington. Por coincidência, o telegrafista Vergès era um kardecista convicto e tudo aquilo me parecia uma operação espírita. O tipo de texto que me chegava às mãos: ?DEPUTADO DIX-HUIT ROSADO AVIONOU DF APRESENTAR PROJETO PELÁCIO TIRADENTES?. Eu tinha de colocar a notícia num português legível e era mais rápido colar o despacho do Vergès numa lauda (na verdade, uma apara de bobina, áspera como lixa e porosa como mata-borrão) e corrigir à caneta-tinteiro. Tesoura, pincel e goma arábica ainda eram ferramentas preciosas do nosso ofício. Quem tinha de decifrar todas essas charadas era um pobre revisor: com a clássica pala verde na testa, ocupava um mezanino, espécie de purgatório entre a redação (no primeiro andar) e a oficina (no térreo). Num pequeno galpão no térreo, as fotos eram transformadas em clichês por um ex-soldado russo, Konstantin Tchernovaloff, que lutara contra os comunistas no exército branco e parecia um cossaco diabólico em meio aos clarões do seu arco voltaico. Os clichês seguiam para a oficina, que envolvia com seus vapores de chumbo a bateria de linotipistas disposta perto das páginas ? parafusadas em molduras de ferro, como nos pasquins do Velho Oeste ? e da prensa plana obsoleta que imprimia nossas verdades absolutas de todo dia. Que tipo de notícias oferecia o mundo em 1954? A Guerra Fria, a Bomba H, a caça às bruxas e a segregação racial nos EUA, a derrota militar da França na Indochina, as lutas de independência anticoloniais na África ? se levássemos a sério as manchetes viveríamos à beira do Apocalipse. No Brasil, 1954 foi um ano trágico. A crise política, depois do atentado da Rua Tonelero contra Carlos Lacerda, culminou com o suicídio do presidente Vargas, em 24 de agosto, no Palácio do Catete. Naquele dia, fui recebido no Colégio Estadual do Paraná pelos gritos dos colegas: ?O Getúlio morreu!?. Um instinto animal me fez correr para a redação da Gazeta, onde colheria os louros da minha primeira edição extra. Em contrapartida, descobri que o jornalista é escravo da notícia, um ser atrelado à vida e à morte dos outros. (Anos depois, editor da Manchete, quando morreu JK, passei 27 horas seguidas na redação, com raros intervalos para ir ao banheiro ? os sanduíches eram mordiscados entre a definição das pautas e o fechamento dos leiautes.) Fauna humana Daqueles primeiros anos, guardo uma ternura especial pela fauna humana da Gazeta. Dicesar Plaisant era nosso gramático-mor (?Nunca escreva: ?João, morreu?. Com a vírgula separando o sujeito e predicado, ele nunca vai morrer!?); o médico Aloysio Blasi assinava a coluna social; o repórter policial Luzimar Dionísio, o ?Meio Quilo? ? elementar, meu caro ? trabalhava na Polícia. Um protético de nobre família, o Mário de Mello Leitão, escrevia crônicas. Um dia, recebeu um telefonema de Fernando Sabino do aeroporto e incorporou-se à caravana eleitoral do general Juarez Távora, que disputava a Presidência com JK. Com a roupa do corpo, sem levar sequer uma escova de dentes ou uma lâmina gilete, Mário embarcou num DC-3 numa trip cívico-etilica de três meses por lugares do Brasil que ele jamais se lembraria de ter passado. A força da redação era um grupo de jovens estudantes de advocacia: o Newton (Stadler de Souza), o Daquino Borges, o Nacim Bacila Neto, o Orlando Soares Carbonar, que brilharia depois na carreira diplomática. Na ala caçula, eu me enturmava com o Carlos Augusto Cavalcanti de Albuquerque e colegas de outros jornais, o Aderbal Fortes de Sá Júnior e o Sylvio Back, que se tornaria o cineasta mais polêmico do Brasil. Munidos de armas mágicas como o lide e o sub-lide, iniciados nos segredos da pirâmide invertida, íamos revolucionar a imprensa. A Gazeta foi para mim um trampolim para outros voos. Em 1960, bolsista do governo francês, estudei jornalismo em Paris por dois anos. A seguir, trabalhei três anos em Londres, no Serviço Brasileiro da BBC. Em 1965, de volta ao Brasil, entrei na Bloch, onde seria o editor que mais durou à frente da Manchete. De 1968 a 1969, fui o editor de artes e espetáculos da Veja em São Paulo, na sua conturbada estreia no mercado editorial. Numa profissão de alta rotatividade, tive relativamente poucos patrões: a Gazeta, a BBC, a Abril e a Bloch, onde passei 33 anos, até a morte anunciada da empresa, em 2000. De lá para cá, conheci o melhor patrão de todos ? eu mesmo, em regime de frila (a palavra free lancer remonta aos lanceiros mercenários da Idade Média e foi cunhada no livro juvenil Ivanhoé). Avanços Todo um mundo mudou nas comunicações nestes 58 anos. Não cabe inventariar aqui os avanços na área da palavra e da imagem. Tecnologia à parte, porém, pouca coisa mudou. A mídia se compartimentou, o nível de especialização dos profissionais e das publicações é espantoso, mas os fundamentos persistem. Quando me perguntam o que é preciso para ser um bom jornalista, eu respondo: curiosidade. Se você não for curioso, estupidamente curioso, vá procurar outro emprego. Curiosidade e, também, um certo desapego à vida organizada, programada. ?Era preciso, mesmo no meio da noite, cortar seus laços, fechar suas gavetas, esvaziar seu quarto de si mesmo, de suas fotos, de seus livros e deixar tudo para trás, menos visível do que um fantasma. Era preciso, às vezes, em plena noite, se desvencilhar dos braços de uma jovem…?. Assim Saint-Exupéry descreve o piloto do correio aéreo em 1927, nos tempos heroicos da aviação. A descrição vale também para o repórter, para o jornalista que, dividido entre o altruísmo e o individualismo, circulando num mundo em que o caos é a norma, exerce a função social suprema de ser ? 24 horas por dia ? o Historiador do Instante. N. da R.: fotos antigas e uma entrevista em que Roberto fala desses tempos podem ser conferidas aqui.
18.8
C
Nova Iorque
quarta-feira, abril 24, 2024