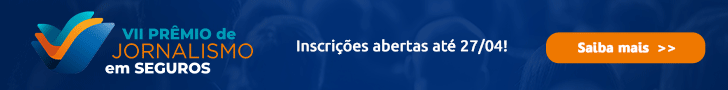A história desta semana é novamente uma colaboração de Moacir Assunção ([email protected]), professor da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, e repórter freelancer. Um pedaço de papel Foi impossível não lembrar, quando do recente incêndio da Favela do Moinho, na região central de São Paulo, em 22 de dezembro do ano passado, no qual morreram duas pessoas, de tantos outros que cobri no período, lá pelo meio dos anos 90, em que fui repórter de Cidades do extinto Diário Popular (hoje Diário de S.Paulo). Este é, como se sabe, um problema recorrente e muito sério em São Paulo. O detalhe que mudou a história é o que ocorreu ao fazer uma dessas coberturas e que ampliou muito a minha visão do jornalismo. Ainda um jovem repórter em início de carreira, fui mais uma vez falar com um grupo de antigos moradores de uma favela sob a ponte da Vila Maria, ?alojados? precariamente em um espaço cultural do Conjunto Habitacional José Bonifácio, em Itaquera, extremo Leste de São Paulo. Descia do carro da reportagem, quando alguém gritou meu nome e disse: ?Moacir, você veio, eu tinha certeza de que você vinha ajudar a gente. O pessoal do Estadão e da Folha não adianta chamar que eles não vêm de jeito nenhum, mas vocês do Diário aparecem sempre?. Me virei e fiquei frente a frente com um senhor mulato, de aspecto simples, traços nordestinos e cabelos grisalhos, que me tratou como se me conhecesse havia muito tempo. Perguntei: o senhor me conhece? Ele respondeu: ?Claro, fui eu que liguei lá no jornal para pedir para você vir aqui, falar com a gente. Eu tinha certeza de que você ia aparecer?. Dito isso, pegou na carteira um pedaço amarrotado de papel, com as letras quase desaparecendo sob as manchas da tinta da caneta, no qual estavam meus nome e telefone. Era um pedaço do bloquinho de reportagem no qual havia marcado meus dados numa ocasião anterior em que estivera no mesmo lugar. Ao ver o papel, fiquei emocionado e tive que me segurar para não chorar: aquele homem e seus vizinhos acreditavam em mim e no jornal e criam que éramos capazes de fazer algo por eles.Um mero nome num pedaço de papel podia ajudar a mudar a vida. E a situação era muito complicada, realmente. Os flagelados, que haviam sido retirados da favela porque ela pegou fogo, o que causou dez mortes, foram levados inicialmente para uma área ao lado da atual estação de trem José Bonifácio, na época acampamento de trabalhadores de uma empreiteira. Lá, por incrível que possa parecer, houve outro incêndio, que matou três pessoas. Depois dessa nova tragédia, foram levados para o tal espaço cultural na região central do conjunto habitacional. Parece que a morte e o descaso percorriam a trilha daquelas pessoas, pobres e miseráveis, que já não sabiam o que fazer para sobreviver. Fui ver como era o novo local e pude constatar que era mesmo caótica a situação daquelas pessoas. Em cada pequeno espaço úmido daquele lugar viviam, amontoadas, dezenas de homens, mulheres e crianças, com roupas penduradas em varais improvisados, praticamente sem móveis, com pouca comida e uma assistência para lá de deficiente da Prefeitura. O senhor, cujo nome não me lembro mais, era uma espécie de líder daquela comunidade e me acompanhou na visita e na conversa com os personagens que estavam lá. Fiz, depois, uma matéria indignada, cumprindo um papel misto de jornalista e cidadão, para mostrar a difícil situação que aquelas pessoas enfrentavam, em meio a ratos, baratas e outros bichos, mesmo depois de tantas atribulações que haviam vivido. Tudo, claro, foi documentado pelo repórter fotográfico que me acompanhava. Naturalmente, não saiu nada nos jornais concorrentes, mas a minha matéria teve boa repercussão nas rádios e dois dias depois saiu algo nos outros veículos diários. Pressionada, a Prefeitura resolveu, dias mais tarde, retirar aquelas pessoas dali e arrumar outro lugar com um mínimo de dignidade para elas se instalarem. Considerei isso uma vitória não minha, mas daquelas pessoas que viviam em situação tão difícil e, mais ainda, daquele senhor que chamou a reportagem, com muita esperança de que a gente pudesse fazer algo. O que percebi dessa história é que, realmente, em muitas situações, o jornalismo e os jornalistas podem ajudar as pessoas. Podem fazer diferença na vida delas e, concretamente, fazer algo pelos mais humildes, função que deveria ser precípua ao verdadeiro jornalismo. Posso assegurar que aquela conversa rápida com aquele homem valeu mais do que qualquer prêmio que pudesse ter ganhado, a exemplo dos mais prestigiados, como o Esso (brinco que já ganhei muito prêmio Texaco, por que é preciso ter ?xaco? para ler o que escrevo). Nenhum deles chegaria aos pés daquele que ?ganhei? naquele dia e que me fez amar mais ainda o trabalho do repórter, lembrando sempre, como disse alguém, que há um poeta na alma de cada repórter. Enfim, aquele Diário Popular fazia um jornalismo popular de verdade, simples, mas sem apelação, ao contrário do também extinto Notícias Populares, o famoso espreme-sai-sangue, com o qual ficávamos chateados de sermos comparados. Sob o comando, inicialmente, de Angélica Neri e depois de José Luiz Longo, trabalhava gente da qualidade de Montserrat Bevilacqua, Odete Machado, Robson Luquêsi, Alessandra Pereira, Ana Paiva, Marici Capitelli, Daiane Cardoso, Dimas Marques, Fábio Diamante e tantos outros, agora reunidos num grupo do Facebook. Era uma turma que trabalhava para valer e gostava do que fazia. O jornal tinha, sem dúvida, o melhor clima entre aqueles em que já atuei em São Paulo e o pessoal fazia questão de se ajudar, mantendo até o hábito de viajar juntos nos fins de semana. Sentíamos, de fato, como se fôssemos uma família. Isso, é claro, repercutia no resultado prático das coberturas. Nos casos de grandes eventos como greves, manifestações e tragédias naturais, em geral batíamos, com facilidade, as equipes dos jornalões Estadão (onde fui trabalhar na sequência) e Folha. Aliás, o Diário era referência fortíssima em Cidades, Polícia e Esportes. Os rivais dominavam a política e a economia, mas quando se tratava de São Paulo, em geral a equipe fazia bonito e não perdia para ninguém. Uma vez, em uma dessas delegacias quase fora do mapa, no extremo da Zona Sul, um delegado me contou algo surpreendente, que não sei nem se a diretoria do jornal chegou a saber: todo dia ele tinha de comprar dois exemplares do Diário para que os presos lessem. Se não o fizesse, me confidenciou, ?a cadeia virava?, ou seja, haveria rebelião na certa. É que o jornal publicava, diariamente, na editoria de Polícia ? que também contava com repórteres do porte de Josmar Josino, Gilberto Lobato, Renato Savarese e Samarone Lima ? notinhas sobre a prisão ou fuga de marginais. Os presos queriam saber quem ?caiu?, ou seja, foi detido, e quem conseguiu escapar da cadeia, como se fosse uma coluna social da criminalidade. Para mim, foi surpreendente descobrir que a leitura de um jornal era capaz de evitar uma rebelião. Uma vez, convidei uma namorada, professora do Estado, para ir a um aniversário de colega no Mutamba, bar um tanto quanto desleixado, ao lado da redação, que dizíamos ser uma ?sucursal? do jornal. Ela não quis ir, inicialmente, e me disse a razão: ?Não tenho roupa para essa festa?. Surpreso, disse que ela não conhecia os jornalistas do Diário. Quando chegou lá, a moça se surpreendeu ao constatar que os jornalistas, tão desleixados e desencanados quanto o lugar, ?pareciam professores?. Ela se sentiu em casa, o que talvez não ocorresse se fosse uma festa dos coleguinhas dos jornais mais ?chiques?, com repórteres de classe média alta, em bares da moda. Nos anos 50, havia um ditado segundo o qual as pessoas diziam: ?Ai, que saudades do tempo do Getúlio Vargas, em que a gente tinha saudade do tempo do general Dutra?. Essa citação popular significa dizer que a gente tem uma tendência de ter saudade de um passado, de forma muitas vezes, impensada, sem lembrar que naquela época lembrávamos de outra mais antiga ainda. Ou seja, nem sempre vale a pena chorar pelo passado. Sem dúvida, entretanto, o Diário no qual trabalhei ? e foi uma grande escola de jornalismo para mim e para tantos outros jovens repórteres ? era um grande jornal, cheio de repórteres humildes que, no entanto, faziam um trabalho de alta qualidade. São Paulo perdeu muito quando a nova administração das Organizações Globo comprou o jornal do ex-governador Orestes Quércia e o transformou em algo que lembrava O Globo, mas não era, e tinha a pretensão de concorrer diretamente com Folha e Estadão, em vez dos seus ?primos pobres? Folha da Tarde (atual Agora) e Jornal da Tarde, com os quais disputávamos espaços nas bancas e nos corações dos paulistanos. O atual Diário de S.Paulo, agora propriedade do grupo J.Hawilla, que o comprou do Globo, guarda mais relações com o jornal do mesmo nome feito quando ainda pertencia às Organizações Globo do que com o centenário Diário Popular e seu logotipo de letras góticas. É uma pena, São Paulo, a mais importante metrópole da América Latina, merecia uma publicação diária com a qualidade do jornal extinto. Bem, mas como se diz, águas passadas não movem moinhos.
14.2
C
Nova Iorque
quinta-feira, abril 25, 2024